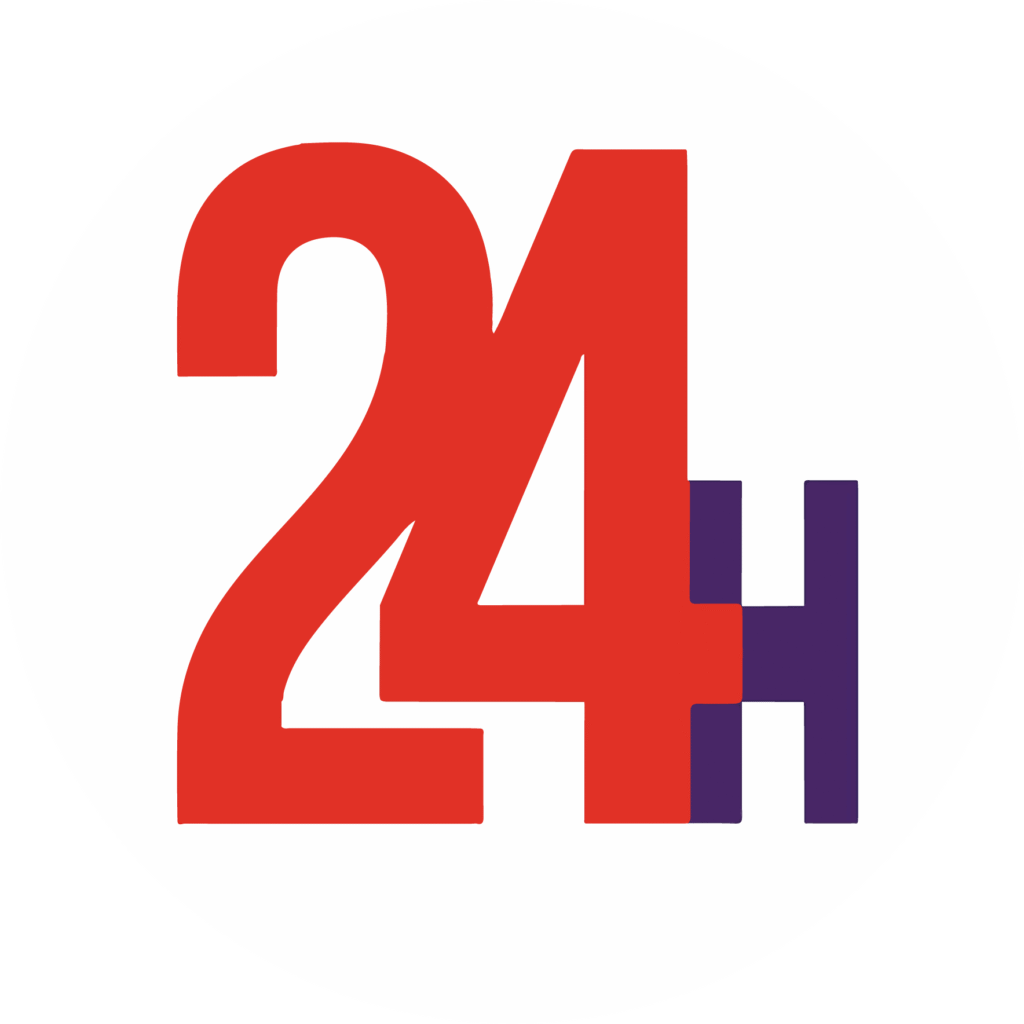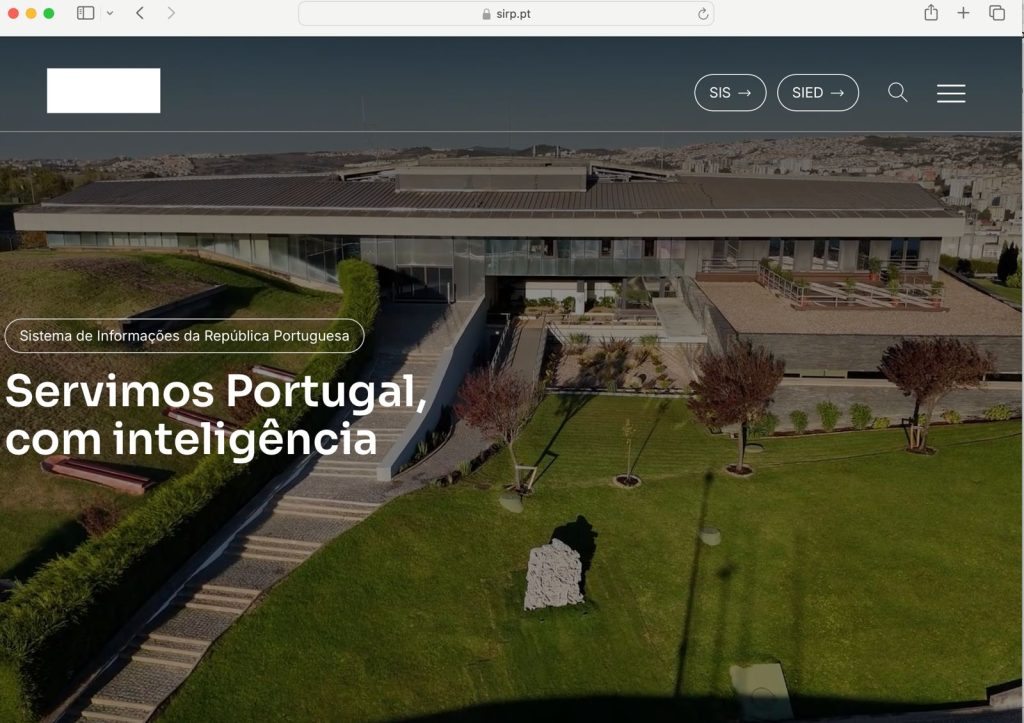Sábado, 1 de novembro de 1755. Celebra-se o Dia de Todos os Santos. A manhã nem parece de outono: nasce com um céu claro e limpo, sem calor nem frio, agradável. As ruas da Baixa de Lisboa estão apinhadas de gente que percorre as igrejas dedicadas a cada santo – a de São Julião, a da Conceição, a de São Nicolau, a de Santa Justa, a de São Mateus, a de São Domingos… Os templos decorados com panos e estandartes, alumiados pelo fogo de candelabros, velas e tochas, estão lotados de fiéis.
Nesta manhã, o rei D. José, a rainha D. Maria a e as princesas estão no Paço Real de Belém. Aguardam a chegada dos ministros do reino, dos embaixadores, dos prelados e dos juízes para a santa missa do Dia de Todos os Santos. Ninguém adivinha o que estás prestes a acontecer. A missa não será celebrada, nenhum dos dignitários há de chegar a Belém – e o rei irá apanhar um susto tão grande que até ao fim dos seus dias nunca mais quis dormir debaixo de telha.
Às nove e meia – em ponto, segundo umas fontes, ou uns poucos minutos depois, a precisão horária pouco interessa para o acontecido – a cidade foi sobressaltada por um rugido surdo, profundo, como um medonho trovão saído das entranhas da terra. No mesmo instante, uma pequena vibração – que foi crescendo até as paredes dos edifícios começarem a baloiçar. Na rua, o chão parecia mover-se em ondas sucessivas. Menos de um minuto depois, ainda os edifícios estão de pé, sente-se um abrandamento, uma acalmia. Mas o sossego só dura uns breves segundos.
Um novo tremor começa a deitar os prédios abaixo como castelos de cartas: as paredes caem e atrás delas as cantarias, os travejamentos, os telhados. Não se sabe quanto tempo dura este novo abalo. Sabe-se, pelos relatos das testemunhas, que após outro intervalo vem mais outro abalo e mais outro e mais outro – cada um mais assustador que o anterior.
Num espaço de minutos – sete, dez, quinze, conforme os testemunhos – a cidade é sacudida por uma série de abalos sísmicos consecutivos. O ruído inicial do horroroso trovão, que soa a uma gigantesca trompeta da desgraça, é substituído pelo barulho infernal das derrocadas. Nuvens de pó elevam-se ao redor dos escombros e são tão grandes que tapam o sol como se a noite tivesse caído sobre Lisboa em destroços. As igrejas apinhadas desmoronaram-se sobre milhares de fiéis. Centenas de candelabros, velas e tochas pegam fogo às madeiras secas. A cidade arde num pavoroso incêndio.
Muita gente foge em pânico para a zona ribeirinha. A linha de água está demasiado recuada, mais do que é habitual na maré baixa, tão distante da margem que se vê o fundo do Tejo.
Sabe-se, hoje, que o sismo teve o epicentro a cerca de 130 quilómetros a sudoeste do cabo de São Vicente, no Algarve.
Uma onda gigante com pelo menos 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de cinco andares, avança destruidora sobre o litoral. O barlavento algarvio é severamente castigado.
A cidade de Lagos, apesar de protegida pelos rochedos da ponta da Piedade, é devorada pela fúria do mar. São nove e meia da manhã – segundo os relatos que nos ficaram desse tempo – quando a terra ali começa a tremer após um estrondo. Levanta-se no ar um intenso cheiro a enxofre. O mar recolhe-se – e, poucos minutos depois, arremete indomável contra a cidade. As águas voltam a retrair-se – e rompem outra vez e mais uma terceira vez. Morrem ou desaparecem cerca de 400 pessoas.
Em Portimão, segundo um testemunho coevo, “as águas saíram do mar”. As consequências da onda gigante não atingem a gravidade do que ocorrera em Lagos. As falésias a sul aguentam os embates. Ainda assim, a fúria das águas por três vezes massacra a cidade no espaço de meia hora. O sismo e o ‘tsunami’ deixam em escombros 168 das 746 moradas de casas.
A fúria do mar é particularmente cruel em Albufeira. Das 293 casas, apenas quatro escapam às toneladas de água terra adentro. Estima-se que terá morrido dois terços da população.
A onda gigante, vinda do sul, chega muito mais quebrada a Lisboa. Desfaz-se na Caparica e na embocadura do rio. Traz uns bons seis ou sete metros de altura quando atinge a capital do reino. O Tejo – movimentado entreposto comercial – acolhe perto de uma centena de navios. A poderosa vaga, uma autêntica parede de água em movimento, fá-los em pedaços – e toneladas de madeira arrastadas pela formidável enxurrada juntam-se ao entulho das derrocadas. Muita gente que fugira em pânico para a beira do rio é apanhada pelo ‘tsunami’.
A onda espraia-se muito para lá das margens – e ressaca, voltando para trás, com a mesma força inicial. Bocados dos navios desfeitos e destroços da cidade voltam para o leito do rio. Mas uma segunda onda volta a trazê-los para terra. A maré sobe e desce por três vezes durante uns cinco minutos. O ‘tsunami’ atinge mais gravemente a zona Belém e Santos-o-Velho – e, em alguns pontos desta margem, terá chegado até cinco quilómetros para o interior.
A água das ondas não é suficiente para apagar os fogos. Quatro dias depois, o que restava de toda a zona da Baixa ainda arde: a linha de fogo estende-se de Alfama ao bairro de São Paulo. Só no Hospital de Todos os Santos, devorado pelo incêndio, morrem quatro centenas de doentes internados.
Não se sabe, com rigor, o número de vítimas causado pelo terramoto. Lisboa – sede política e económica de um reino que se estende por quatro continentes – é então uma das oito maiores do mundo habitada por cerca de 200 mil almas. Estima-se que na capital terá morrido, pelo menos, cinco por cento da população: 10 mil pessoas.
O sismo atinge Marrocos e toda a costa da Andaluzia. Mas não há dúvida de que a maior destruição acontece no Algarve e em Lisboa. Não há memória na História da Europa de uma catástrofe como a que se abateu sobre a capital portuguesa. O rol dos prejuízos nunca ficou completo. Dois terços dos edifícios ficam em ruínas ou inabitáveis. Das quatro dezenas de igrejas, poucas escapam. Os hospitais desaparecem. Mais de 50 conventos e mosteiros caem ou sofrem danos consideráveis. Quase todos os edifícios da administração central soçobram em escombros. Trinta palácios particulares ficam reduzidos a pó.
Sebastião José de Carvalho e Melo (mais tarde, feito marquês de Pombal), então conhecido pelo apelido Carvalho, é secretário de Estado – o equivalente a ministro – com a pasta dos Negócios Estrangeiros. Iniciou-se na carreira diplomática, ainda com D. João V, como representante na corte de Londres e, depois, em Viena – onde se casou com D. Maria Leonor, condessa de Daun. O rei D. José, aclamado depois da morte do pai, D. João V, decidido a romper com a ‘situação’ herdada, forma novo governo. Pombal, diplomata experiente, erudito e ambicioso, sobe ao poder.
Vive com a mulher no seu palácio dos Carvalhos, situado onde é hoje a rua d’O Século – numa das colinas de Lisboa. O edifício sacudido pelo terramoto sofre poucos danos. O ministro corre o mais depressa que lhe é permitido para se juntar à família real, no paço de Belém, nos arrabaldes da cidade.
A meio da manhã, a terra ainda treme em Lisboa. Não deixa de tremer nos dias seguintes. À dor e ao desespero junta-se o medo causado pelas réplicas consecutivas. A população desalojada procura refúgio fora da cidade. Até as famílias que ainda têm casa fogem em pânico: falta-lhes a coragem para continuarem a viver entre quatro paredes de alvenaria. Os subúrbios a norte de Lisboa transformam-se em verdadeiros ‘campos de refugiados’ – onde os sobreviventes armam tendas de pano ou constroem barracas de madeira e se preparam para passar o inverno.
O ministro Carvalho – enquanto todos os outros homens do Estado, espantados com a tragédia, fazem contas à vida – é o único nas primeiras horas de infortúnio a juntar-se à família real. Apossa-se do rei em pânico e atarantado, dá-lhe amparo e auxílio. D. José e a rainha D. Mariana Vitória encontraram na determinação de Pombal a única luz salvadora – e confiam-lhe a vida e o reino.
O monarca, como tantos dos seus súbditos, recusa voltar a habitar entre quatro paredes de pedra. Pombal toma imediatamente a primeira providência: manda construir nos terrenos de Belém tendas provisórias e condignas para acolher a família real. Mais tarde, continua o rei decidido a nunca mais dormir debaixo de telha, são construídas magníficas tendas – a célebre Real Barraca da Ajuda.
Não se sabe quem pronunciou a célebre frase “é preciso enterrar os mortos e cuidar dos vivos” – ou se alguma vez foi dita. Muito provavelmente, ninguém a disse. Mas o ministro Sebastião José ficará para sempre associado à sentença – o que demonstra como se torna senhor da situação na resposta ao terramoto. As primeiras ordens do rei são redigidas pelo punho de Pombal.
A primeira manda que todos os cadáveres sejam retirados dos escombros e enterrados o mais depressa possível para evitar epidemias. A missão é atribuída ao duque de Lafões e ao marquês de Marialva. Unidades militares do interior são mobilizadas para o trabalho de retirar os corpos das ruínas da cidade. Uma semana depois do sismo, ainda fumegam vários focos de incêndio.
A segunda medida tem em vista a alimentação dos sobreviventes. Os armazéns da alfândega estão destruídos e toneladas de víveres perdidas. O rei ordena às povoações do reino que enviem cereais e mantimentos para Lisboa.
A terceira grande preocupação é a repressão do crime. Bandos de ladrões escavam as ruínas a saquear tudo o que encontravam. O rei, a pedido de Pombal, manda agir sem contemplações contra os salteadores: todos os que são apanhados em flagrante ou na posse de bens roubados são sumariamente executados. Levantam-se forcas entre as ruínas. Os ladrões executados são decapitados – e as cabeças pregadas em postes para servirem de emenda.
Um mês após o terramoto, em dezembro, o ministro Carvalho deixa os Negócios Estrangeiros e é nomeado para os Negócios do Reino. A nova pasta – que corresponderia hoje à de um superministro da Administração Interna e da Justiça – não tem o significado de lhe atribuir novas tarefas. Pombal já se ocupa desde a primeira hora dos assuntos relativos ao terramoto. A mudança de ministério é justificada com necessidade de tornar oficial a tutela de todas as ações para a reconstrução de Lisboa.
Pombal gere a crise com rara habilidade política – e começa a construir o seu poder sobre o entulho do terramoto. Há o rei, é certo. Mas o ministro concentra todo o poder do Estado. Os seus inimigos hão de lamentar mais tarde que o palácio onde habitava não lhe tenha ruído em cima.
Imagem: ‘O Terramoto de 1755’, pintado entre 1756-1792 por João Glama Ströberle (1708-1792). Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa