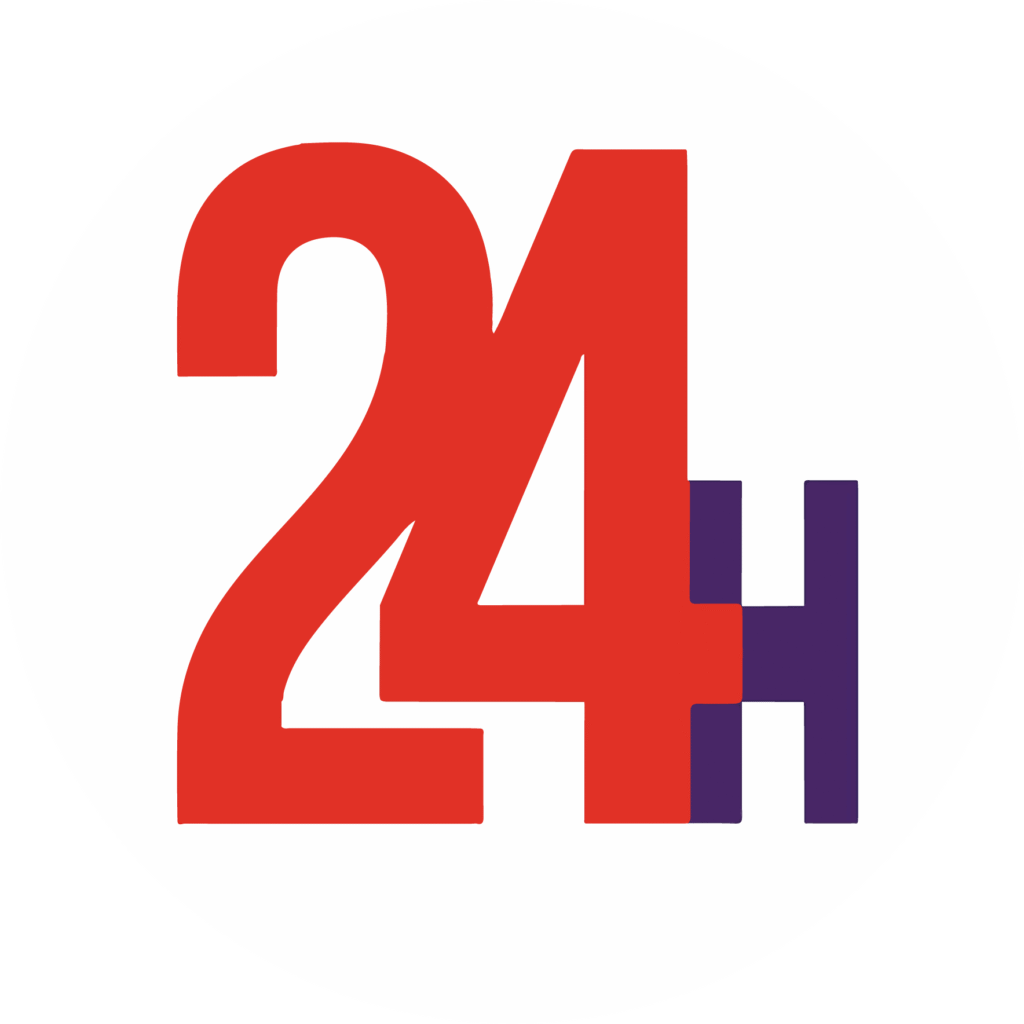Abram alas, Senhoras e Senhores, para o mais requintado número da política externa contemporânea: o Grande Equilíbrio Moral sobre o Abismo. Um acto de funambulismo intelectual onde o cidadão europeu, particularmente o português, espécie já habituada a navegar nebulosidades, é convidado a dançar sobre a corda bamba das convicções, sem rede e, sobretudo, sem bússola. Preparem-se para a vertigem da coerência suspensa.
O axioma inicial parece de cristalina simplicidade: se a invasão é o pecado capital, o Ur-Crime geopolitico, então a solidariedade deve ser universal. A Ucrânia invadida? Manus Dei! A Palestina invadida? Idem, parece gritar a lógica cartesiana aplicada ao caderno diário dos horrores. Mas eis que surge o primeiro caveat, a primeira prestidigitação do manual: Israel. Ah, Israel! A única democracia (assinala-se com aspas mentais, como quem coloca um asterisco num tratado de alquimia) num mar de autoritarismos. Como conjugar o verbo condenar quando o sujeito ostenta credenciais democráticas, mesmo que o predicado seja ocupação e bombardeamento de populações civis? A mente europeia, treinada em ginásticas paradoxais desde os debates sobre o bacalhau na CEE, engendra então a fórmula salvífica: «Estamos com a Palestina, mas contra o Governo da Palestina, que é o Hamas, e este Hamas é um grupo terrorista». Uma clivagem tão nítida quanto um golpe de bisturi numa sopa de pedra. A beleza reside na absolvição por ignorância performativa: a maioria, confessemos, não deslindou os meandros do Hamas para além do leitmotiv televisivo, daquele ostinato de «terrorista» martelado em 300 telejornais consecutivos. Soa bem, soa correcto, como um jingle publicitário para a consciência tranquila.
Entra então em cena o último acto deste drama absurdo, digno de um guião rejeitado por Ionesco por excesso de nonsense fundamentado: o ataque do Irão a Israel. O script vira-se do avesso. Quem é agora o agressor? O Irão, régulo teocrático e patrocinador de milícias várias. Quem é o agredido? Israel, o mesmo que dias antes bombardeava Gaza. O cidadão, já tonto da coreografia anterior, esfrega os olhos. Defender Israel, alvo agora? Mas Israel é… o agressor de antes! E quem surge em defesa de Israel? Os Estados Unidos, aliado inabalável, farol (por vezes cegante) do Ocidente. E quem apoia o Irão? A Rússia, essa mesma que invadiu a Ucrânia. O paralelo salta à vista como um diabo da caixa: Rússia invade Ucrânia = Israel ataca Irão? A lógica, essa frágil criatura, pede licença para se retirar, atordoada. Percebem? Claro que não percebem! Como perceber uma partida de xadrez jogada com as regras do calvinball sobre um tabuleiro de lava?
Exige-se do espectador comum uma elasticidade mental próxima do milagre, uma capacidade de suspensão ética que faria inveja a um discípulo de Loyola. É preciso odiar a invasão, mas amar o invasor quando convenientemente rotulado de bastião democrático. Condenar o terrorismo, mas apoiar incondicionalmente as vítimas cujos representantes são ditos terroristas. Repudiar o autoritarismo iraniano, mas simpatizar com o seu papel de vítima num dado momento. É um ballet de posições mutantes, onde a única coreografia constante é a do aliado de sempre. O resto é paisagem moral, maleável como cera ao sol do interesse. O cidadão é deixado num limbo cognitivo, num estado de confusão sublime, onde o riso nervoso se confunde com o grito de aflição. Resta-lhe a estética do desequilíbrio, a beleza quase trágica de tentar manter-se de pé enquanto o chão se move em todas as direcções. Talvez, apenas talvez, nesta vertigem partilhada, nesta constatação colectiva do ridículo da posição impossível, nasça o gérmen de uma lucidez menos conveniente, menos televisiva, e quiçá, menos… equilibrada. A esperança, como a moral neste circo, pende perigosamente sobre o vazio.